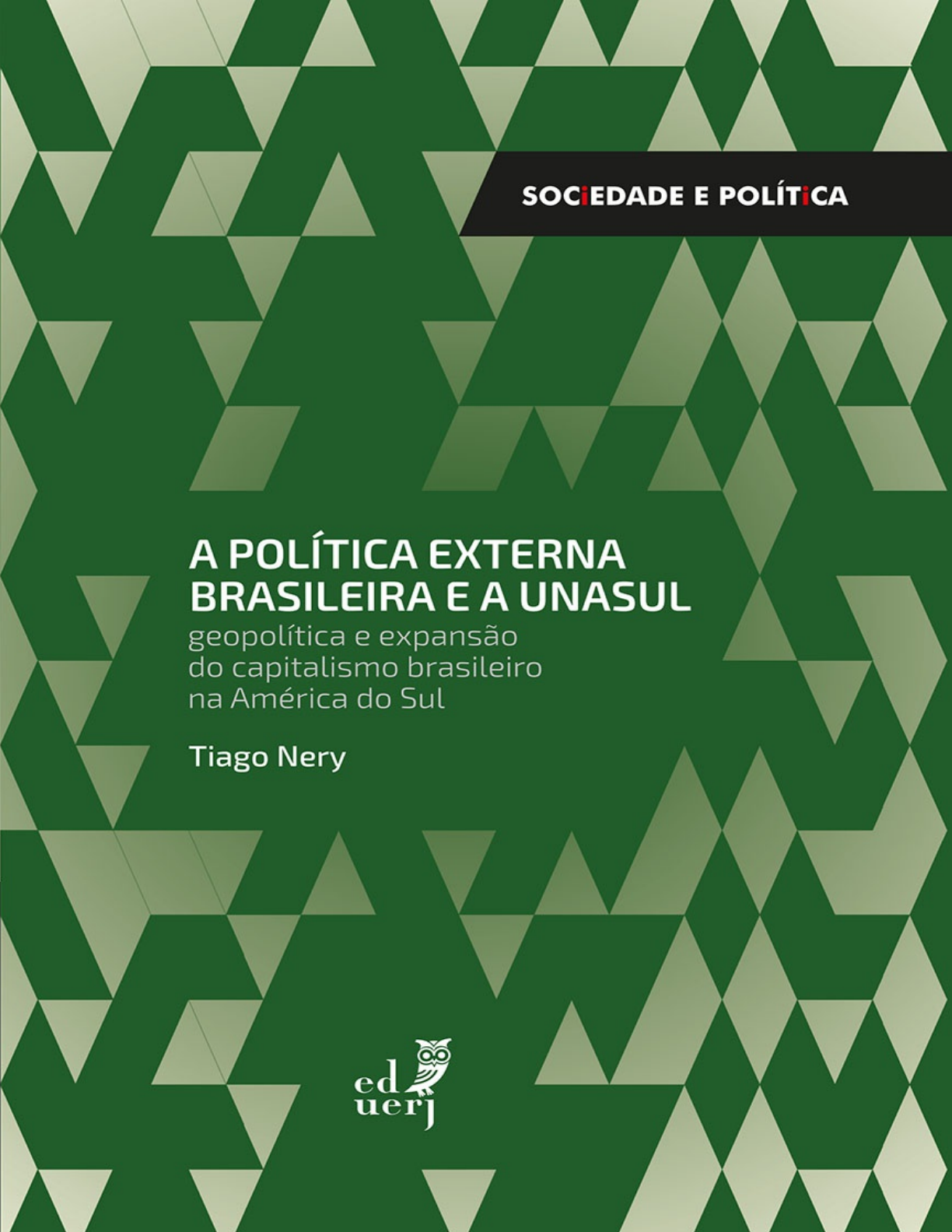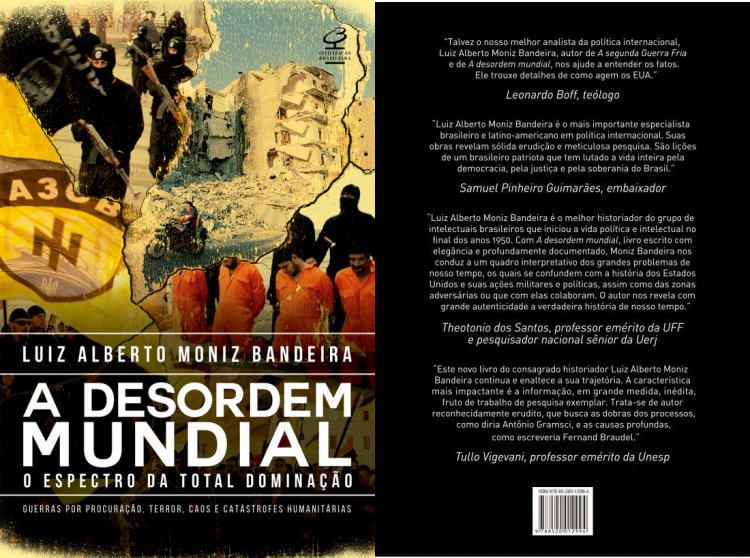Quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma Rousseff aceitaram Michel Temer como vice em suas chapas não foi por seu sorriso artificial, nem por sua esposa, Marcela Temer, “bela, recatada e do lar”, segundo a revista Veja. As coligações foram firmadas com a presença do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que tem o atual vice-presidente da República como seu líder principal, não com ele propriamente dito. A aliança partiu do pressuposto de que só uma frente de esquerda não ganharia as eleições, nem tampouco governaria o país.
Seria importante compor com o centro em torno de um programa político básico que unisse as forças contrárias ao neoliberalismo. A atração do PMDB para essa ideia era fundamental; por sua posição no espectro político, quando o centro não se une à esquerda ele não fica no centro, vai para a direita. Como principal partido centrista — uma frente política de grande envergadura — seu ingresso na coligação que reelegeu Lula, após a experiência bem-sucedida de José Alencar na vice, deu sustentabilidade à governabilidade e permitiu a formação de uma base aliada no Congresso Nacional relativamente estável.
Momento de fragilidade
Essa estabilidade política persistiu na eleição de Dilma Rousseff, mas começou a fazer água no processo de sua reeleição. No pêndulo político característico de democracias como a brasileira, a ala do PMDB capitaneada por Michel Temer começou a se aproximar da cerca que conteve o neoliberalismo restrito ao seu gueto ideológico. A ordem unida golpista várias vezes ensaiada pela mídia desde que Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto como presidente da República em 2003 só encontrou eco quando o vice-presidente piscou para a direita.
Ele se aproveitou de um momento de fragilidade da presidenta Dilma Rousseff e do Partido dos Trabalhadores (PT) para pular nos braços dos golpistas e se transformar, nas palavras do ex-ministro Ciro Gomes, no “capitão do golpe”, quando a mídia recrudesceu seus ataques e começou a atirar para matar, se utilizando da “Operação Lava Jato”, uma farsa mais monumental do que a do “mensalão”. Ele e o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também do PMDB, começaram a tecer o fio da trama, devidamente apoiada pelos partidos de direita, o Partido da Social Democracia Brasileira (PDSB) e o Democratas (DEM), e por entidades empresariais.
No comando de tudo, manuseando os fios da trama, está a mídia com suas firulas golpistas apresentadas como show da notícia. Numa via de duas mãos, ela se encarrega de transformar as pirotecnias encenadas na “Lava Jato” e no Congresso Nacional em espetáculo para incautos engolir e levar de volta a “indignação popular” como combustível para a reprodução incessante de cenas grotescas, autoritárias, demagógicas e imorais — autênticas patacoadas. Como resultado, o que se vê são golpes rasteiros como método de fuga do confronto ideológico, do debate de ideias, da normalidade de um ambiente democrático e civilizado.
Degeneração golpista
Essa degeneração golpista só foi possível com a alienação política de um grande contingente da população, que se traduz em ódio e outras atitudes imbecilizadas. O que deveria ser chama cívica, se converte em patriotadas alimentadas por ignorância política. Esse alicerce é o coração do fascismo, a forma como se apresenta a intolerância social e as manifestações agressivas contra pessoas e situações que as mentes magnetizadas pela propaganda golpista julgam seus inimigos mortais. Se fosse preciso eleger alguns títulos cinematográficos para esse comportamento, algo como “De caso com a máfia” ou “Muito barulho por nada” cairia bem.
Nas costas desse submundo, os chefes do golpe vão tomando decisões imperiais e fazendo indicações totalitárias para seu pretenso futuro governo, sempre à revelia do povo e das garantias democráticas. O essencial disso tudo está nas mazelas históricas da sociedade, basicamente de um setor do Brasil no qual a corrupção sempre grassou com vigor. O que Michel Temer fez foi apenas dar suporte político para esse setor, se corrompendo até a alma ao romper com a lógica da sua função para favorecer interesses contrários aos que o levaram a ser vice-presidente — a luta por um país democrático e socialmente justo, a plataforma política que elegeu Lula e Dilma.
A existência de uma esquerda atuante ao longo da nossa história republicana deu forma a essa plataforma. Nesse período mais recente, quando a democracia irrompeu com força, graças a esse papel histórico da esquerda, o Brasil institucional começou a expurgar do seu âmago infestado de corrupção algumas crises de dimensões catastróficas e mitigou outras igualmente explosivas. Os mecanismos de controle do Estado foram reforçados e ampliados, mas os quistos de conservadorismos se mostraram fortes o suficiente para abafar casos escandalosos de corrupção — como ocorre na “Operação Lava Jato” — e servir de munição para o golpismo — como ocorre com os vazamentos seletivos.
Desenho no tabuleiro
Depois do impeachment de Fernando Collor de Mello, tivemos, entre outras, a crise das pastas azul e rosa, os grampos da Polícia Federal, o caso Sivam, o escândalo das privatizações e a vergonhosa operação que reelegeu Fernando Henrique Cardoso (FHC) à Presidência da República. As ações da esquerda que denunciaram esses fatos escabrosos levaram a maioria da sociedade a não aquiescer em relação às práticas de negociar vantagens, de levar a cabo escambos suspeitos, de traficar interesses obscuros. Por isso, ao assumir o poder, a esquerda, em aliança com outras forças, elegeu também o combate ao “mal-feito”, como cunhou a presidenta Dilma Rousseff, entre suas prioridades.
Esse desenho no tabuleiro político brasileiro atual é cristalino. Para quem sempre usurpou os recursos públicos essa situação é o pior dos mundos. Práticas corruptas isoladas na esfera do governo, igualmente espúrias, são comportamentos estranhos ao projeto de país que está no poder. Casos assim merecem o tratamento devido, como tem feito o governo, demarcando a fronteira da ética para não tolerar o “é dando que se recebe” e preservar a correção que permeia a esquerda, aliada às satisfações que o governo tem de dar à sociedade. E isso implica maior grau de complexidade no que toca às relações de classes no Brasil.
Na elite, a corrupção é reconhecida em grande medida como modo natural de agir. Todas as tentativas de remover esse cancro secular como forma de implantar o desenvolvimento econômico e a justiça social historicamente foram repelidas com ações e argumentos reacionários. Não por acaso, essa queda de braço está sendo o pano de fundo do processo golpista em curso. Historicamente, o poder autoritário fez com que a sociedade se mantivesse distante de mecanismos de combate a esse crime.
Viés desenvolvimentista
Na década de 1990, houve no Brasil um acentuado acirramento dessa histórica disputa ideológica. No projeto de governo que estava no poder, totalmente atrelado ao capital financeiro internacional, não cabia a imensa maioria que não se encaixava nessa regra. E, aos poucos, o Estado foi sendo moldado para funcionar apenas como um agente desse projeto — grande e eletrizado ao tratar dos interesses dessa simbiose de poderes econômicos e néscio ao tratar da massa excluída.
No reinado de FHC, o Estado se livrou do viés desenvolvimentista e voltou a ser o velho Estado patrimonialista dos anos pré-Vargas. No mesmo período, com as privatizações, a riqueza foi ainda mais concentrada e consolidou-se a categoria dos excluídos. Como a elite brasileira sempre achou que locupletar-se faz parte do seu rol de direitos, o choque foi inevitável. O Brasil se dividiu e assistiu a um cerrado combate. A vitória eleitoral do bloco que apoiou Lula em 2002 representou uma derrota dessa filosofia. Pode-se dizer que a maioria da sociedade decidiu que o modelo que serviu à elite com galhardia desde o golpe militar de 1964 estava esgotado.
Os recentes êxitos dos golpistas represtam um passo atrás, mas não arrefeceram essa disposição de combate à corrupção. Isso quer dizer que no jogo limpo, regido por normas democráticas, a direita não teria a menor possibilidade de voltar ao poder. Apesar do lugar-comum de que os partidos políticos brasileiros são destituídos de conteúdo ideológico, que frequentemente estabelece exceções ao PT e ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), eles não são ficções, mero clubes de interesses que gravitam mais em torno de pessoas do que de ideologias, somente sacos de gato nas mãos de negociadores profissionais. São isso tudo, mas são, sobretudo, instituições com programas de governo bem definidos e, não por acaso, cuidadosamente ocultados.
Geografia dos votos
Essa diferenciação entre esquerda e direita diz muito sobre a forma de governar. Ela aparece abertamente no noticiário político da mídia, explicitamente voltado para plasmar na opinião pública a ideologia da direita. As eleições que se seguiram à vitória de Lula em 2002 mostram uma fotografia que enquadra e compõe bem esse cenário. Basta observar a geografia dos eleitores, que revela onde a direita e a esquerda obtiveram mais ou menos votos. Ao contrário da propaganda ideológica conservadora, o voto de esquerda não vem das parcelas da população menos esclarecidas — como FHC sentenciou recentemente.
Há situações concretas que levam os extratos sociais, possivelmente com o mesmo grau de politização e despolitização, a optarem por uma ou outra vertente ideológica. Em um país com imensas demandas sociais, a própria realidade impõe o voto progressista. A distribuição das preferências partidárias segue bem de perto essa tendência, que vem se repetindo eleição após eleição. O poderio da mídia não foi capaz de superar a realidade concreta das bases sociais do voto, profundamente relacionadas com a situação econômica dos votantes. O golpe é somente para reverter essa tendência. Nada mais que isso.